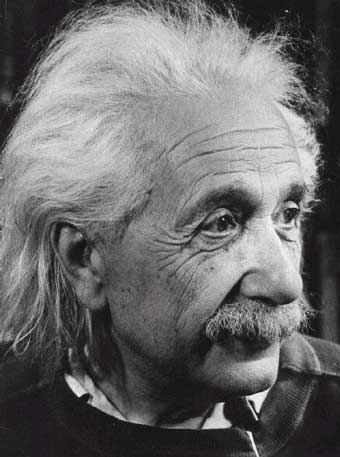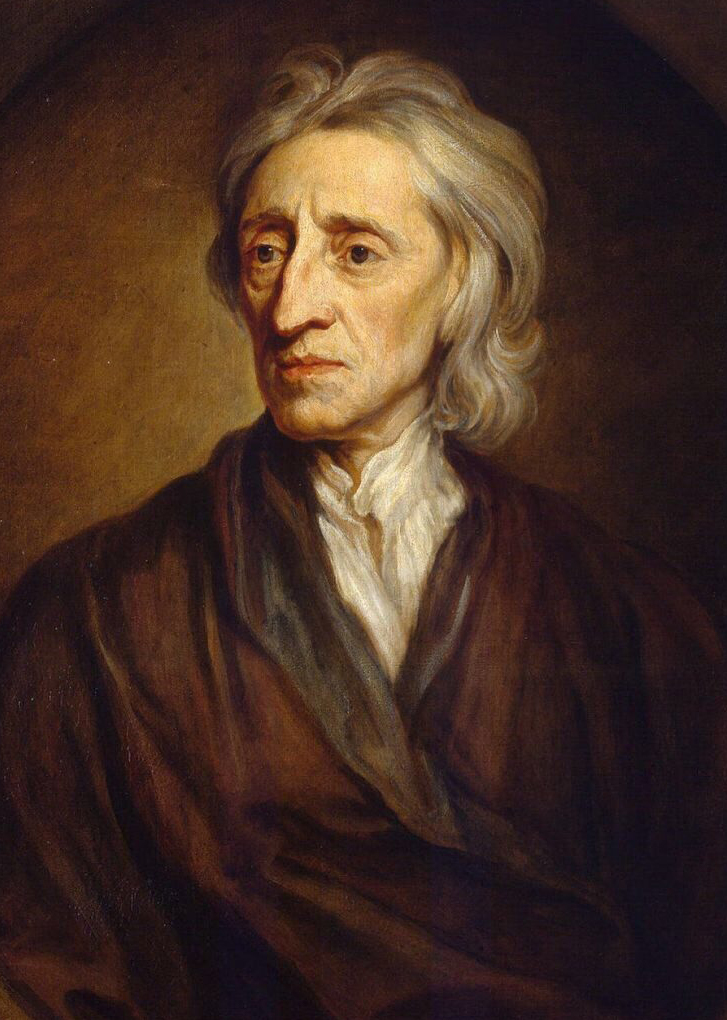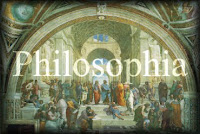Religião
 Abordar a experiência religiosa exige-nos uma prévia distinção entre o fenómeno religioso, ou seja, a manifestação objectiva da religião, e a experiência religiosa, isto é, o seu carácter subjectivo. Não podendo confundir as instituições, as igrejas, as seitas, com a fé propriamente dita. “A fé é justamente aquele paradoxo segundo o qual o indivíduo se encontra (…) numa relação absoluta com o absoluto”.
Abordar a experiência religiosa exige-nos uma prévia distinção entre o fenómeno religioso, ou seja, a manifestação objectiva da religião, e a experiência religiosa, isto é, o seu carácter subjectivo. Não podendo confundir as instituições, as igrejas, as seitas, com a fé propriamente dita. “A fé é justamente aquele paradoxo segundo o qual o indivíduo se encontra (…) numa relação absoluta com o absoluto”.
Só evitando esta confusão nos acharemos aptos a analisar com sentido crítico e tolerante toda a dimensão religiosa. Criticar determinadas orientações sociais de uma religião não significa pôr em causa a mensagem de fé em que tal religião se baseia.
Condenar, por exemplo, a Inquisição ou a Guerra Santa não é anular os valores do Cristianismo ou do Islamismo. Da mesma forma que defender tais valores não significa legitimar aquelas práticas.
Reflectir em torno do fenómeno e da vivência da religião é uma tarefa da filosofia, o que nos sugere, ao mesmo tempo, a aproximação e o distanciamento entre estas duas áreas da cultura. Ora, religião (do latim re-ligare) significa ligar de novo. Trata-se de procurar a união do ser humano com Deus, através do rito e da vivência interior. A filosofia, por sua vez, utiliza a racionalidade para conferir um sentido ao mundo. Ao contrário da religião, que se apoia na Revelação divina e nos dogmas que ela veicula, a filosofia desenvolve-se mediante o exercício crítico e a exigência de fundamentação.
Senão vejamos o que pode levar o ser humano a religião? Sabemos que o ser humano constrói no seu mundo, de acordo com os seus projectos. Um mundo que ele desejaria harmonioso e belo. Mas, a vida confronta-o com a experiência do negativo. Desde logo, o ser humano confronta-se com a sua própria finitude, isto é, com a sua condição de ser mortal, tendo consciência desse facto, sentindo-se dependente, contingente e limitado. Além disso, a fome, as catástrofes, as doenças, a ignorância, a dor e a morte geram nele sentimentos de insegurança, ameaça, fragilidade, insatisfação, angustia e medo.
Os seres humanos primitivos recorriam aos deuses para tentarem explicar estas realidades e, ao mesmo tempo, para que as intervenções divinas se tornassem favoráveis. Nas religiões politeístas, existia uma hierarquia de deuses antropomórficos, diante dos quais os seres humanos realizavam ritos e cerimonias, a fim de os tornarem propícios por base o medo.
Para além do medo existem ainda outro factor na base da religião: o fascínio pelo mistério, a atracção do desconhecido independentemente de qual possa ser a causa fundamental que a origina, a religião coloca o ser humano perante um outro. Este confere sentido à existência, e, diante dele, o ser humano sente a sua pequenez, a sua insignificância, o que o conduz a uma atitude de relevância. É na transcendência divina, no Além, que se encontra a salvação. A transcendência representa, neste contexto, tudo que está para além, possuindo uma natureza absolutamente diferente e superior em relação ao ser humano. Equivale ao divino essa presença suprema enigmática que, ao mesmo tempo é fonte de sentido. Além disso, a transcendência opõe-se à imanência, esta diz respeito ao que é interior a um ser ou a um objecto de pensamento não dependendo de uma instância exterior.
O sentimento do medo e da morte, a realidade do sofrimento e o fascínio pelo mistério conjugam-se no mesmo movimento que leva o ser humano a procurar um sentido para a vida. O sentido da vida é uma questão de construção pessoal. Há aqueles que afirmam que a vida não tem sentido; outros dizem que o sentido da vida deve ser procurado apenas na dimensão terrena da existência; finalmente, encontra-se aqueles que afirmam que o sentido da vida deve ser procurado para além da morte. É essa a proposta das religiões.
A multiplicidade e a variedade das religiões – cristianismo, judaísmo, islamismo, budismo, hinduísmo – não nos permitem obter uma resposta imediata à pergunta: o que é a religião?
Com efeito, incluem-se na religião o animismo (crença que atribui alma aos seres inanimados, procurando obter os seus benefícios mediante certas práticas), o politeísmo (crença na existência de muitos deuses, hierarquizados e com poderes específicos, concebidos à semelhança do ser humano – antropomorfismo) e as diversas formas de monoteísmo (crença na existência de um único Deus, omnipotente, infinitamente bom, omnisciente, absoluto: cristianismo, judaísmo, islamismo). As crenças e as práticas religiosas são múltiplas, assim como as atitudes verificadas no interior de cada religião, desde a crendice imediata à religiosidade esclarecida.
A religião pode ser encarada, desde logo, na sua dimensão social. Oferecendo ao crente um conjunto de dogmas e de normas a cumprir, cada religião orienta e integra o indivíduo num grupo que partilha a mesma fé, numa comunidade guiada por ideias semelhantes. Deste modo, o fenómeno religioso, em virtude da sua extensão, surge como um elemento sociocultural extremamente importante. Fenómeno complexo e multidimensional, cada religião define-se, em geral, pelos seguintes elementos:
- Um corpo de crenças; um culto;
- Um culto, uma liturgia;
- Uma organização;
- Uma moral;
- A ideia de salvação;
- Um mediador ou mediadores;
- Livros sagrados.
A partir destas características, podemos dizer que a religião não se constrói apenas no domínio da vida privada. Nos países ocidentais, verifica-se uma separação entre a religião e o poder político, mas nem sempre foi assim e existem hoje muitos países fora do Ocidente onde tal separação ainda é pouco nítida.
Com o advento do renascimento, recuperam-se os ideais dos valores pagãos greco-romanos, ao mesmo tempo que a descoberta de novos mundos configura outra visão do ser humano. Um conjunto de movimentos reformistas vem pôr em causa a hierarquia e a tradição da igreja e o racionalismo da Idade Moderna exalta a técnica e a ciência, procurando emancipar o ser humano. Assim a religião vai perdendo as suas funções de justificação da ordem social e existencial, enquanto diversas instâncias da sociedade se vão libertando da tutela da igreja.
No entanto, a religião também possui uma dimensão pessoal e individual, traduzida na fé e na vivência emotiva. Aparentemente a fé é apenas uma adesão a um conjunto de verdades afirmadas por determinadas religiões – mas só aparentemente. Com efeito, a adesão situa-se no plano do conhecimento e a fé não pertence a este domínio. Ter fé não é escolher entre o sim e o não: é abrir-se a uma certeza subjectiva, a uma confiança emotiva, a um compromisso, que também comporta uma esperança.
Rute Ribeiro